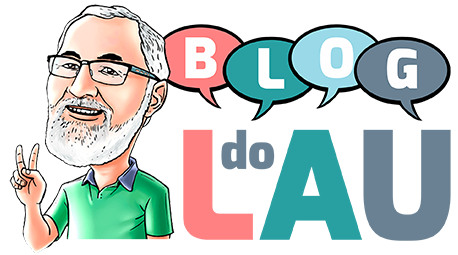Tem sido assim nos últimos dias: acordo, acesso as redes sociais e metade dos meus amigos está dizendo que as manifestações dos “coletes amarelos” na França – os gilets jaunes – são de extrema-direita, fascistas e ajudarão a eleger Marine Le Pen, a deputada da Frente Nacional. A outra metade comemora a revolta popular e está contente que os 50 anos das agitações de 1968 não passaram despercebidos.
O julgamento sobre se os protestos são à direita ou à esquerda ocorreu também nas jornadas de junho de 2013 (e continua ocorrendo quando o assunto é interpretá-las) e também nos chamados “rolezinhos” de 2014. Em relação a esses últimos, lembro-me que, àquela época, boa parte da mídia nacional e internacional estava desnorteada tentando captar “o” significado dos jovens nos shoppings centers. Como a antropóloga Lúcia Scalco e eu estudávamos o tema, jornalistas nos contatavam e perguntavam: “os rolezinhos são políticos ou não são?” Nós respondíamos de forma padronizada “sim e não” e explicávamos que eram manifestações juvenis contraditórias que misturavam contestação política e pulsão capitalista hedonista.
No outro dia, para nossa frustração, víamos que os meios de comunicação haviam escolhido o sim ou o não. A Folha de S. Paulo e a The Economist, por exemplo, valorizaram a parte que os jovens queriam se divertir – e não mudança política. Já o El País espanhol e o Libération francês noticiavam o fenômeno com expressões de luta e rebelião contra a segregação. A discrepância que existia na cobertura era em si um novo fato a ser analisado, um sintoma de uma incompreensão maior acerca de novas formas de ação coletiva no século 21.
Quando estourou a greve dos caminhoneiros, Lúcia e eu estávamos em campo novamente, sentadas em uma cadeira de praia no lado dos caminhões estacionados e ouvindo, por exemplo, eleitores de Lula que seguravam uma faixa de intervenção militar e queriam “Fora Temer”, “revolucionar o país”, “preços justos para o povo”, mas que também diziam “quem sabe não voto nesse tal de Bolsonaro para ter uma mudança”?
Nas redes sociais ou nos jornais, a história interpretativa do “é ou não é” – do binarismo primário, das disputas por verdades fechadas e dos desejos e projeções pessoais, políticas ou corporativas – se repetia uma vez mais.
Para desenredar o nó desses movimentos cujo os repertórios e contextos são tão diferentes entre si – mas que compartilham do fato de que poucos parecem estar dispostos a entendê-los em seus próprios termos e sua própria contradição e complexidade –, nós precisamos, urgentemente, abandonar as lentes dicotômicas através das quais compreendemos o mundo político no século 20. Nós adentramos no século 21, na era do que tenho chamado de “revoltas ambíguas”.
Fruto da crise econômica de 2007 e 2008, as revoltas ambíguas são um fenômeno que veio para ficar. Elas são uma resposta imediata do acirramento de austeridade do neoliberalismo do século 21, marcado pela crescente captura dos estados e das democracias pelas grandes corporações.
Se o neoliberalismo flexibiliza as relações de trabalho e, consequentemente, as formas de fazer política sindical, atuando como uma máquina de moer coletividades, des-democratizar, desagregar e individualizar, os protestos do precariado tendem a ser desorganizados, uma vez que a esfera de politização deixa de ser o trabalho, mas ocorre de forma descentralizada nas redes sociais. Os protestos ocorrem mais comoriots (motins) para chamar atenção: barricadas, vias interrompidas, pixação e escalada do Arco do Triunfo, como ocorreu recentemente na França.
Eles nascem, muitas vezes, de forma espontânea e contagiosa, sem grande planejamento centralizado e estratégico, expressando um grande sentimento de revolta contra algo concreto vivenciado em um cotidiano marcado por dificuldades. São um grito de “basta”. Por isso, as pautas dos transportes e dos deslocamentos são tão centrais (o preço da tarifas de ônibus nas jornadas de Junho; o preço da gasolina nas greve dos caminhoneiros e, agora, o imposto sobre o diesel na dos coletes amarelos).
Não é raro também que as revoltas ambíguas carreguem um forte componente patriótico (mas não necessariamente nacionalista), pois, como pontuam as sociólogas Donatella della Porta e Alice Mattoni, em “Spreading protest: social movements in times of crisis”, a revolta do precariado é justamente por mais políticas sociais nacionais, a partir de um entendimento de que a globalização do capital internacional não foi revertida em uma melhoria de vida da as pessoas comuns.
No livro “A Precariat Charter: From Denizens to Citizens”, o sociólogo inglês Guy Standing, chama o precariado de “as classes perigosas” e suas revoltas de “rebeliões primitivas” – o sociólogo Ruy Braga também aborda o assunto de um ponto de vista marxista no seu livro mais recente, “A Rebeldia do Precariado“. Para Standing, suas revoltas são anti-austeridade e sugerem que as democracias liberais e o capitalismo não entregaram suas promessas. Para o autor, elas vêm com alto teor de frustração, anomia, ansiedade, alienação de pessoas que vivem sem identidade profissional, em estado de insegurança, empobrecimento e endividadas.
As categorias de esquerda ou direita não dão conta das emergentes ondas contenciosas, as quais “são e não são” ou “isso e aquilo”. Contudo, isso não significa que o antagonismo ideológico não seja mais importante – ainda mais em plena época de polarização e populismo em escala global. Elas apenas não contemplam sua explosão contraditória. Direita e esquerda são os polos para onde as rebeliões ambíguas podem pender. São, portanto, um devir, uma disputa, um fim.
Seres humanos e sujeitos políticos tendem a continuamente produzir dicotomia. Isso significa que a ambiguidade não é um lugar no qual conseguimos nos manter por muito tempo. Assim, a radicalização dos sujeitos que se engajam nesses movimentos tende a um caminho natural.
Além disso, uma vez que sentimos a “energia vital” advinda da participação em um processo de efervescência social (aquela sensação de que nunca mais seremos os mesmos depois da experiência da luta coletiva), entramos num caminho sem volta.
Em 2016, quando nós revisitamos os rolezeiros para ver, afinal, para qual lado do pêndulo ideológico eles tinham virado, aprendi uma lição importante sobre as revoltas ambíguas. Uma parte dos jovens tinha se transformado em bolsominion, e uma outra parte era radicalmente contra, aderindo a lutas anti-fascistas, homofóbicas, racistas e machistas. E a lição foi precisamente entender que, nesses movimentos marcados pela descentralização e pela molecularidade, nós não teremos necessariamente a radicalização do movimento “com um todo” (por que não existe um movimento como um todo), mas de sujeitos e redes em particular.
Ou seja, a esquerda precisa disputar, primeiro o que é possível: indivíduos, redes e inserções. Quando os motoristas de aplicativos pararem – porque isso um dia deve acontecer –, e o Brasil entrar num novo surto de “o que está acontecendo?”, seria mais inteligente não exigir carteirinha de “bom trabalhador” nem check-list de entrada no clube ideológico. Os trabalhadores precarizados tendem a direita pela própria natureza injusta e individualista de seu trabalho, mas isso não elimina a injustiça que está lá de forma latente. O populismo de direita, esse sapo medonho, se veste de príncipe, não escolhe militante, estende a mão e acolhe. Uma grande parte de nós tem feito o oposto: rechaçado, ridicularizado e tachado tudo aquilo que não compreende.
A esquerda brasileira não vai conseguir disputar as revoltas ambíguas em sua totalidade, porque elas são monstros disformes mesmo. Mas pode disputar trabalhadores por meio do uso renovado das redes sociais, do emprego da micropolítica da conversa face a face (como foi feito no movimento #viravoto). Finalmente, a eleição de deputadas como a latina Alexandria Ocasio-Cortez nos Estados Unidos, com forte discurso de identidade de classe trabalhadora, dá-nos pistas de que é necessário o retorno à radicalização de discurso que dialogue com a profunda e latente frustração popular.
P/Rossana Pinheiro Machado
Site The Intecept – Brasil